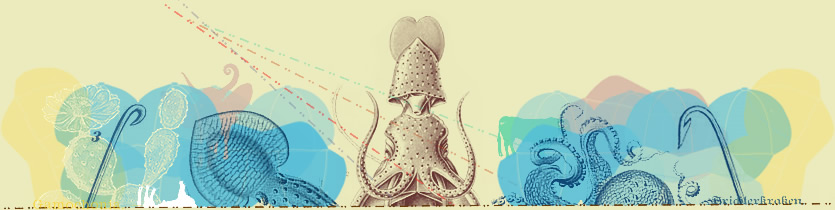1. Cuentos en tránsito, antologia de autores brasileiros que acaba de sair na Argentina, pela Alfaguara. Participo com o conto que dá nome ao meu livro novo (a ser publicado em breve/no segundo semestre/quando o Deus da Edição permitir), "Sebastopol". 2. A antologia vai ser lançada na próxima semana durante a Feira do Livro de Buenos Aires, da qual participo no dia 2, às 19h, num papo com o escritor argentino Oliverio Coelho (que fez parte da Granta hispano-americana, e é autor dos contos excelentes de Hacia la extinción). 3. Em breve, a Alfaguara brasileira lança uma antologia irmã por aqui, só com escritores argentinos. 4. A programação completa da feira do livro, que esse ano homenageia São Paulo, pode ser vista aqui. 5. E outro conto meu, "Temporada", acaba de ser publicado em espanhol, traduzido pela Julia Tomasini. A Julia é argentina e edita um site bem bacana de literatura brasileira contemporânea traduzida, Papeles Sueltos. 6. O conto, analisado aqui pelo escritor espanhol Javier Montes, também vai estar na primeira edição da revista argentina Galeria N˚1, ao lado de contos de Marçal Aquino, André de Leones, Paula Fábrio e Andrea del Fuego.
.quarta-feira, 23 de abril de 2014
domingo, 6 de abril de 2014
quinta-feira, 3 de abril de 2014
a voz em off
.
Texto novo no blog da Companhia das Letras.
.
1
Esses dias, voltei às últimas páginas de O sentido de um fim, quando o Julian Barnes breca a história para falar de batatas.
O narrador, Tony Webster, chega a um bar e pede: “Você poderia me preparar batatas fritas finas pra variar? Você sabe, como na França, aquelas fininhas”. O garçom responde que não, ali não fazem batatas daquele tipo. Tony insiste: “Mas no cardápio diz que elas são cortadas à mão”. “Sim”, fala o garçom. “Então, não dá pra cortá-las mais finas?”
O garçom olha para o personagem de Barnes. Olha para o cardápio. Olha para o personagem de Barnes.
— Batatas cortadas à mão significa batatas grossas — diz o garçom.
— Mas se você corta batatas à mão, não poderia cortá-las mais finas?
— Nós não as cortamos. Elas vêm assim.
— Elas não são cortadas aqui?
— Foi o que eu disse.
— Então o que vocês chamam de “batatas cortadas à mão” são na verdade batatas cortadas em outro lugar, e muito provavelmente por uma máquina?
— O senhor é fiscal da prefeitura por acaso?
— De jeito nenhum. Só estou intrigado. Nunca me dei conta de que “cortada à mão” significava “grossa” e não “necessariamente cortada à mão”.
— Bem, agora o senhor sabe.
Estamos a menos de cinco páginas do fim, no momento crucial do romance. Queremos saber o que vai acontecer com Tony Webster. Veronica teve mesmo um filho? Por que a Sra. Ford guardava o diário de Adrian? Em retrospecto, o que as ações de Tony desencadearam? Tony errou? Aprendeu algo, ele que acreditou ter sido sempre uma pessoa boa, justa e “vivido cautelosamente e evitado o sofrimento”? Então, bem nessa hora, Barnes vem com o episódio das batatas.
2
A conversa lembra a dos matadores do conto de Hemingway que, num bar, enquanto esperam a chegada do homem que devem assassinar, discutem o cardápio. Pedem lombo de porco e croquetes de frango, mas naquele horário, o garçom diz, só podem servir bacon e presunto com ovos.
Num ensaio, “Teoria da narrativa: posições do narrador”, Davi Arrigucci Jr. faz uma breve análise do narrador em Hemingway. Toma como exemplo o conto “Hills like white elephants”, de Men without women (o melhor livro de Hemingway, no qual também está a história dos matadores, “The killers”). “Hills” é a história de um homem e uma mulher que chegam a uma pequena estação no vale do Ebro, Espanha, num dia de calor. Enquanto esperam o trem, pedem duas cervejas e começam uma conversa banal, que vai se tornando tensa — discordam sobre as colinas brancas da desolada paisagem. Revela-se então um conflito em torno de um eventual aborto que a moça vai ou não fazer. “O continho se resume nisso”, escreve Arrigucci. “Ocorre, porém, que as cenas podem assumir uma dimensão simbólica, aludindo a um universo complexo de relações que se entrevê obliquamente através dos poucos elementos de fato apresentados de modo direto.”
Ou seja: talvez Barnes queira nos dizer algo com a cena das batatas. Na superfície, a cena é o que é: a simples descoberta de que batata “cortada à mão” não necessariamente quer dizer “cortada à mão”. Todavia, temos a sensação de que há algo mais ali, não uma resposta para alguma questão pontual do enredo, mas “algo” que só pode ser dito assim, de maneira oblíqua, num diálogo banal sobre batatas (ou colinas). Algo sobre a fragilidade de um personagem que foi terraplanado pela vida, pelas circunstâncias e, no fim, pela bruta verdade dos tubérculos? Talvez.
3
A ficção é esse negócio escorregadio. A jornada de um personagem como Tony Webster em busca de respostas e esclarecimento parece conduzi-lo (e nos conduzir) a uma escuridão ainda maior — nas últimas páginas do livro, o narrador de Barnes está mais perdido do que no início. Sobretudo porque uma boa narrativa nunca opera de maneira simples. Não existe uma voz em off que nos diga com segurança esquemática: o texto quer dizer isso; este é o ponto de vista do autor. Um bom romance não é necessariamente progressista por tratar de mazelas sociais ou ter um personagem que, corajoso, diz “verdades” e “bota o dedo na ferida”. Não é necessariamente conservador por ter um protagonista heterossexual ou que não gosta de andar de bicicleta. Não pode ser reduzido (os bons) a “um estudo sobre a gênese do capitalismo”, “um libelo antifascista”, “uma ode ao feminino”. As respostas não estão superfície, nunca de maneira binária (“é isto, é aquilo”). Ohran Pamuk diz que toda narrativa tem um centro secreto. E esse centro fica sempre “ao fundo, invisível, difícil de encontrar, esquivo, quase dinâmico”.
4
Há um mês, o New York Times reproduziu uma entrevista que Philip Roth deu a um jornal sueco. Entre outros assuntos, Roth comenta as acusações de misoginia que já se tornaram lugar-comum sobre sua obra — no ano passado, o tema chegou a ser parte de uma enquete sobre o autor, numa edição da New York Magazine.
Roth diz que seu foco nunca foi o poder masculino feroz e triunfante, e sim sua antítese: o poder masculino devastado. “Não sou um moralista utópico”, fala. “Minha intenção é criar meus homens ficcionais não como eles deveriam ser, mas tão aborrecidos quanto de fato são [...]; nem soterrados pelas suas fraquezas nem feitos de pedra, e que, quase inevitavelmente, curvam-se a uma visão moral turva, culpas reais e imaginárias, compromissos conflitantes, desejos urgentes, ânsias incontroláveis, amores inexequíveis, paixões proibidas, o transe erótico, a raiva, traições, perdas drásticas, vestígios de inocência, acessos de amargura, confusões lunáticas, erros de julgamento que trazem consequências, dores prolongadas, acusações falsas, doenças, exaustão, alienação, demência, envelhecimento, morte e, repetidamente, danos inevitáveis, o toque brutal das surpresas terríveis.”
Conheço pouco a obra de Roth para afirmar se isso faz sentido ou não (li apenas dois romances). Mas o que ele parece dizer no trecho acima é: nada é tão simples. Mais adiante, no fim da entrevista, o jornalista pergunta: se você entrevistasse a si próprio nesse ponto da sua vida, há uma questão que nunca foi feita, algo óbvio e importante, mas ignorado pelos jornalistas, que gostaria de fazer? Transcrevo a resposta de Roth:
De forma bastante perversa, quando você me questiona sobre uma pergunta que vem sendo ignorada pelos jornalistas, eu penso imediatamente numa questão que nenhum deles parece ser capaz de ignorar. A pergunta é mais ou menos a seguinte: “Você ainda pensa nisso-e-naquilo? Você ainda acredita em tal-e-tal coisa?” E daí eles citam alguma coisa dita não por mim, mas por um personagem num dos meus livros. Se você não se importa, posso aproveitar sua pergunta final para dizer algo que provavelmente já está claro para os leitores do caderno de cultura do Svenska Dagbladet, caso não esteja para os fantasmas dos jornalistas que estou evocando?
Qualquer um que procure pelo pensamento do autor nas palavras e pensamentos dos seus personagens está procurando no lugar errado. Procurar pelos “pensamentos” de um autor é violar a riqueza da mistura que é a característica mais essencial de um romance. O pensamento mais importante de um romancista é o pensamento que faz dele um romancista. O pensamento do romancista não está nos comentários feitos pelos seus personagem ou mesmo na sua introspecção, mas sim nas situações que ele inventa para os seus personagens, na justaposição desses personagens e nas ramificações realistas do conjunto que ele cria — sua densidade, sua substanciabilidade, sua existência vívida materializada em todas as suas nuances particulares é, na verdade, a metabolização do seu pensamento. O pensamento do escritor está na sua escolha de um aspecto da realidade que ainda não foi examinado da forma que ele conduz sua observação. O pensamento do escritor está permeado em todas as ações ao longo do romance. O pensamento do escritor está transfigurado de forma invisível no intrincado padrão — na novíssima constelação emergente de coisas imaginárias — que forma a arquitetura do livro: o que Aristóteles chamava simplesmente de “o arranjo das partes”, uma “questão de tamanho e ordem”. O pensamento do romance está incorporado no foco moral do romance. A ferramenta com a qual o romancista pensa é a escrupulosidade do seu estilo. Em todas essas coisas está concentrada a magnitude que seu pensamento pode alcançar. O romance, então, é, em si mesmo, seu mundo mental. Um romancista não é uma pequena parte na grande engrenagem do pensamento humano. Ele é uma pequena parte na grande engrenagem da chamada literatura de ficção. Fim.
5
Epílogo: no verão de 1950, John Huston convidou a jornalista Lillian Ross (fã de Hemingway) para ir a Hollywood observá-lo em seu novo trabalho, a filmagem de A glória de um covarde (baseado em The red badge of courage, romance de Stephen Crane, sobre a guerra civil americana). Ross aceitou. Passou um ano e meio na cidade, seguindo as etapas de realização do filme, e escreveu aquela que viria a ser uma das mais importantes reportagens já feitas sobre um filme. Publicada inicialmente na New Yorker, a série de textos logo virou livro, Picture (Filme, no Brasil). De saída, Lillian percebeu que o que tinha nas mãos era uma espécie de romance, “pelo modo como as personagens podem se desenvolver e pela variedade de relações que há entre elas”. Ross fez do diretor Huston, dos produtores Gottfried Reinhardt e Dore Schary, e do chefão da MGM, Louis B. Mayer, seus personagens.
O livro é a história da conturbada realização do filme. Mayer não acredita no projeto, diz que será um fracasso. Huston, Schary e Reinhardt apostam no filme. Dessa tensão, nasce boa parte dos episódios. Ross vai compondo o pano de fundo, a pressão para que A glória de um covarde seja um sucesso comercial, a escalação dos atores, os bastidores.
Lá pelas tantas, o produtor Gottfried Reinhardt diz que está sentindo falta de “reflexão”; quer menos sutileza, mais drama, mais respostas; em suma, mais explicação. “Sempre sustentei que aquilo que torna o livro de Crane notável são os pensamentos e sentimentos do protagonista, e não suas ações”, fala. E expõe sua IDEIA GÊNIA (só que não): acrescentar às cenas uma narração em off.
Esse parece ser o "centro secreto" da narrativa de Ross: mostrar como produtores e chefes de estúdio ao proporem soluções geniais (para atrair público, para dar ao filme uma “história”, um “sentido claro e identificável”), acabam por destruí-lo. É como se Ross quisesse nos dizer (sem off): observe as batatas, as colinas, medite sobre elas. Mas nunca, de maneira nenhuma, tente explicá-las.
.
Texto novo no blog da Companhia das Letras.
.
1
Esses dias, voltei às últimas páginas de O sentido de um fim, quando o Julian Barnes breca a história para falar de batatas.
O narrador, Tony Webster, chega a um bar e pede: “Você poderia me preparar batatas fritas finas pra variar? Você sabe, como na França, aquelas fininhas”. O garçom responde que não, ali não fazem batatas daquele tipo. Tony insiste: “Mas no cardápio diz que elas são cortadas à mão”. “Sim”, fala o garçom. “Então, não dá pra cortá-las mais finas?”
O garçom olha para o personagem de Barnes. Olha para o cardápio. Olha para o personagem de Barnes.
— Batatas cortadas à mão significa batatas grossas — diz o garçom.
— Mas se você corta batatas à mão, não poderia cortá-las mais finas?
— Nós não as cortamos. Elas vêm assim.
— Elas não são cortadas aqui?
— Foi o que eu disse.
— Então o que vocês chamam de “batatas cortadas à mão” são na verdade batatas cortadas em outro lugar, e muito provavelmente por uma máquina?
— O senhor é fiscal da prefeitura por acaso?
— De jeito nenhum. Só estou intrigado. Nunca me dei conta de que “cortada à mão” significava “grossa” e não “necessariamente cortada à mão”.
— Bem, agora o senhor sabe.
Estamos a menos de cinco páginas do fim, no momento crucial do romance. Queremos saber o que vai acontecer com Tony Webster. Veronica teve mesmo um filho? Por que a Sra. Ford guardava o diário de Adrian? Em retrospecto, o que as ações de Tony desencadearam? Tony errou? Aprendeu algo, ele que acreditou ter sido sempre uma pessoa boa, justa e “vivido cautelosamente e evitado o sofrimento”? Então, bem nessa hora, Barnes vem com o episódio das batatas.
2
A conversa lembra a dos matadores do conto de Hemingway que, num bar, enquanto esperam a chegada do homem que devem assassinar, discutem o cardápio. Pedem lombo de porco e croquetes de frango, mas naquele horário, o garçom diz, só podem servir bacon e presunto com ovos.
Num ensaio, “Teoria da narrativa: posições do narrador”, Davi Arrigucci Jr. faz uma breve análise do narrador em Hemingway. Toma como exemplo o conto “Hills like white elephants”, de Men without women (o melhor livro de Hemingway, no qual também está a história dos matadores, “The killers”). “Hills” é a história de um homem e uma mulher que chegam a uma pequena estação no vale do Ebro, Espanha, num dia de calor. Enquanto esperam o trem, pedem duas cervejas e começam uma conversa banal, que vai se tornando tensa — discordam sobre as colinas brancas da desolada paisagem. Revela-se então um conflito em torno de um eventual aborto que a moça vai ou não fazer. “O continho se resume nisso”, escreve Arrigucci. “Ocorre, porém, que as cenas podem assumir uma dimensão simbólica, aludindo a um universo complexo de relações que se entrevê obliquamente através dos poucos elementos de fato apresentados de modo direto.”
Ou seja: talvez Barnes queira nos dizer algo com a cena das batatas. Na superfície, a cena é o que é: a simples descoberta de que batata “cortada à mão” não necessariamente quer dizer “cortada à mão”. Todavia, temos a sensação de que há algo mais ali, não uma resposta para alguma questão pontual do enredo, mas “algo” que só pode ser dito assim, de maneira oblíqua, num diálogo banal sobre batatas (ou colinas). Algo sobre a fragilidade de um personagem que foi terraplanado pela vida, pelas circunstâncias e, no fim, pela bruta verdade dos tubérculos? Talvez.
3
A ficção é esse negócio escorregadio. A jornada de um personagem como Tony Webster em busca de respostas e esclarecimento parece conduzi-lo (e nos conduzir) a uma escuridão ainda maior — nas últimas páginas do livro, o narrador de Barnes está mais perdido do que no início. Sobretudo porque uma boa narrativa nunca opera de maneira simples. Não existe uma voz em off que nos diga com segurança esquemática: o texto quer dizer isso; este é o ponto de vista do autor. Um bom romance não é necessariamente progressista por tratar de mazelas sociais ou ter um personagem que, corajoso, diz “verdades” e “bota o dedo na ferida”. Não é necessariamente conservador por ter um protagonista heterossexual ou que não gosta de andar de bicicleta. Não pode ser reduzido (os bons) a “um estudo sobre a gênese do capitalismo”, “um libelo antifascista”, “uma ode ao feminino”. As respostas não estão superfície, nunca de maneira binária (“é isto, é aquilo”). Ohran Pamuk diz que toda narrativa tem um centro secreto. E esse centro fica sempre “ao fundo, invisível, difícil de encontrar, esquivo, quase dinâmico”.
4
Há um mês, o New York Times reproduziu uma entrevista que Philip Roth deu a um jornal sueco. Entre outros assuntos, Roth comenta as acusações de misoginia que já se tornaram lugar-comum sobre sua obra — no ano passado, o tema chegou a ser parte de uma enquete sobre o autor, numa edição da New York Magazine.
Roth diz que seu foco nunca foi o poder masculino feroz e triunfante, e sim sua antítese: o poder masculino devastado. “Não sou um moralista utópico”, fala. “Minha intenção é criar meus homens ficcionais não como eles deveriam ser, mas tão aborrecidos quanto de fato são [...]; nem soterrados pelas suas fraquezas nem feitos de pedra, e que, quase inevitavelmente, curvam-se a uma visão moral turva, culpas reais e imaginárias, compromissos conflitantes, desejos urgentes, ânsias incontroláveis, amores inexequíveis, paixões proibidas, o transe erótico, a raiva, traições, perdas drásticas, vestígios de inocência, acessos de amargura, confusões lunáticas, erros de julgamento que trazem consequências, dores prolongadas, acusações falsas, doenças, exaustão, alienação, demência, envelhecimento, morte e, repetidamente, danos inevitáveis, o toque brutal das surpresas terríveis.”
Conheço pouco a obra de Roth para afirmar se isso faz sentido ou não (li apenas dois romances). Mas o que ele parece dizer no trecho acima é: nada é tão simples. Mais adiante, no fim da entrevista, o jornalista pergunta: se você entrevistasse a si próprio nesse ponto da sua vida, há uma questão que nunca foi feita, algo óbvio e importante, mas ignorado pelos jornalistas, que gostaria de fazer? Transcrevo a resposta de Roth:
De forma bastante perversa, quando você me questiona sobre uma pergunta que vem sendo ignorada pelos jornalistas, eu penso imediatamente numa questão que nenhum deles parece ser capaz de ignorar. A pergunta é mais ou menos a seguinte: “Você ainda pensa nisso-e-naquilo? Você ainda acredita em tal-e-tal coisa?” E daí eles citam alguma coisa dita não por mim, mas por um personagem num dos meus livros. Se você não se importa, posso aproveitar sua pergunta final para dizer algo que provavelmente já está claro para os leitores do caderno de cultura do Svenska Dagbladet, caso não esteja para os fantasmas dos jornalistas que estou evocando?
Qualquer um que procure pelo pensamento do autor nas palavras e pensamentos dos seus personagens está procurando no lugar errado. Procurar pelos “pensamentos” de um autor é violar a riqueza da mistura que é a característica mais essencial de um romance. O pensamento mais importante de um romancista é o pensamento que faz dele um romancista. O pensamento do romancista não está nos comentários feitos pelos seus personagem ou mesmo na sua introspecção, mas sim nas situações que ele inventa para os seus personagens, na justaposição desses personagens e nas ramificações realistas do conjunto que ele cria — sua densidade, sua substanciabilidade, sua existência vívida materializada em todas as suas nuances particulares é, na verdade, a metabolização do seu pensamento. O pensamento do escritor está na sua escolha de um aspecto da realidade que ainda não foi examinado da forma que ele conduz sua observação. O pensamento do escritor está permeado em todas as ações ao longo do romance. O pensamento do escritor está transfigurado de forma invisível no intrincado padrão — na novíssima constelação emergente de coisas imaginárias — que forma a arquitetura do livro: o que Aristóteles chamava simplesmente de “o arranjo das partes”, uma “questão de tamanho e ordem”. O pensamento do romance está incorporado no foco moral do romance. A ferramenta com a qual o romancista pensa é a escrupulosidade do seu estilo. Em todas essas coisas está concentrada a magnitude que seu pensamento pode alcançar. O romance, então, é, em si mesmo, seu mundo mental. Um romancista não é uma pequena parte na grande engrenagem do pensamento humano. Ele é uma pequena parte na grande engrenagem da chamada literatura de ficção. Fim.
5
Epílogo: no verão de 1950, John Huston convidou a jornalista Lillian Ross (fã de Hemingway) para ir a Hollywood observá-lo em seu novo trabalho, a filmagem de A glória de um covarde (baseado em The red badge of courage, romance de Stephen Crane, sobre a guerra civil americana). Ross aceitou. Passou um ano e meio na cidade, seguindo as etapas de realização do filme, e escreveu aquela que viria a ser uma das mais importantes reportagens já feitas sobre um filme. Publicada inicialmente na New Yorker, a série de textos logo virou livro, Picture (Filme, no Brasil). De saída, Lillian percebeu que o que tinha nas mãos era uma espécie de romance, “pelo modo como as personagens podem se desenvolver e pela variedade de relações que há entre elas”. Ross fez do diretor Huston, dos produtores Gottfried Reinhardt e Dore Schary, e do chefão da MGM, Louis B. Mayer, seus personagens.
O livro é a história da conturbada realização do filme. Mayer não acredita no projeto, diz que será um fracasso. Huston, Schary e Reinhardt apostam no filme. Dessa tensão, nasce boa parte dos episódios. Ross vai compondo o pano de fundo, a pressão para que A glória de um covarde seja um sucesso comercial, a escalação dos atores, os bastidores.
Lá pelas tantas, o produtor Gottfried Reinhardt diz que está sentindo falta de “reflexão”; quer menos sutileza, mais drama, mais respostas; em suma, mais explicação. “Sempre sustentei que aquilo que torna o livro de Crane notável são os pensamentos e sentimentos do protagonista, e não suas ações”, fala. E expõe sua IDEIA GÊNIA (só que não): acrescentar às cenas uma narração em off.
Esse parece ser o "centro secreto" da narrativa de Ross: mostrar como produtores e chefes de estúdio ao proporem soluções geniais (para atrair público, para dar ao filme uma “história”, um “sentido claro e identificável”), acabam por destruí-lo. É como se Ross quisesse nos dizer (sem off): observe as batatas, as colinas, medite sobre elas. Mas nunca, de maneira nenhuma, tente explicá-las.
.
Assinar:
Postagens (Atom)